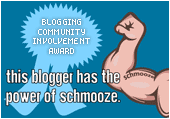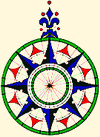Recentemente organizei na revista da UBE (União Brasileira dos Escritores) de São Paulo uma grande matéria sobre Graciliano Ramos. Nela saiu a entrevista imaginada que montei abaixo.
“... o artista deve procurar dizer a verdade.”
Quem não gostaria de entrevistar Graciliano Ramos? Já que isso não é mais possível, recorremos a sua obra. Das muitas páginas e idéias que deixou, surgiram as perguntas e respostas. Quando vimos, a entrevista estava pronta.
UBE: O escritor tem uma relação íntima com a memória. Muito do que se escreve vem de lá, do que é lembrado. É assim com o senhor?
GR: A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrá de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram.
UBE: O senhor foi preso político, esteve na prisão sem ter sido julgado. Como encara, hoje, o episódio?
GR: As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto era natural.
UBE: Os críticos foram sempre generosos com sua obra, o que acha deles?
GR: A coisa mais fácil do mundo é fazer crítica, fiquem sabendo, principalmente crítica literária. Eu, pelo menos, acho facílimo. Retirem dali os chavões, galicismos e as tolices, e vejam o que resta...
UBE: O senhor escreve à mão. Como é ver a obra, depois, impressa?
GR: O senhor já leu Balzac? Perdoe-me se sou indiscreto. Já, hein? Nem podia deixar de ser assim. Pois talvez se lembre de que esse fidalgo francês, a páginas tantas de um de seus formidáveis livros, diz que um artigo impresso parece valer mais que o mesmo artigo manuscrito. E é assim mesmo, não acha? Dir-se-ia que os períodos ganham mais expressão, energia, graça, uma grande soma de vantagens, enfim. A beleza do tipo, os espaços em branco, os grifos – que coisas tentadoras!
Imagine-se a distância que vai entre uma tira ignobilmente coberta de caracteres infames, semeada de borrões, e a mesma tira exposta em uma coluna nitidamente impressa em ótimo papel. É caso até para o autor ficar um tanto desconfiado, como o ingênuo carpinteiro que viveu há muitos anos lá num recanto da Ásia, e perguntar a si mesmo se foi ele que fez aquilo.
UBE: Como vê o mundo moderno?
GR: Não é nenhuma novidade dizer que as necessidades de um homem hoje são coisas muito complexas. Antigamente, um cidadão vivia com duas ceroulas, três camisas, uma casa esburacada, um banco, uma rede, uma mesa, um pote, um curral de vacas, um tabaqueiro, e um lenço. Às vezes também possuía um chapéu de couro e um par de alpercatas. Era pouco. Entretanto, era quanto bastava para chegar-se aos noventa anos sem precisão de óculos. É verdade que naquele tempo ainda não havia o costume de ler coisas impressas, o que, segundo está provado, danifica a vista de forma assustadora. Cada vez vamos ficando mais estragados dos olhos na flor da idade. A continuarem as coisas assim, não estará longe o dia em que as crianças já nascerão de pince-nez.
UBE: O senhor escreveu um livro chamado “Viagem”. Gosta de viajar?
GR: Em abril de 1952 embrenhei-me numa aventura singular: fui a Moscou e a outros lugares medonhos situados além da cortina de ferro exposta com vigor pela civilização cristã e ocidental. Nunca imaginei que tal coisa pudesse acontecer a um homem sedentário, resignado ao ônibus e ao bonde quando o movimento era indispensável. Absurda semelhante viagem – e quando me trataram dela, quase me zanguei. Faltavam-me recursos para realizá-la; a experiência me afirmava que não me deixariam sair do Brasil; e, para falar com franqueza, não me sentia disposto a mexer-me, abandonar a toca onde vivo. Recusei, pois, o convite, divagação insensata, julguei. Tudo aquilo era impossível. Mas uma série de acasos transformou a impossibilidade em dificuldade; esta se aplainou sem que eu tivesse feito o mínimo esforço, e achei-me em condições de percorrer terras estranhas, as malas arrumadas, os papéis em ordem, com todos os selos e carimbos. Tenho horror às casas desconhecidas. E falo pessimamente duas línguas estrangeiras. Estava decidido a não viajar; e, em conseqüência da firme decisão, encontrei-me um dia metido na encrenca voadora, o cinto amarrado, os cigarros inúteis, em obediência ao letreiro exigente aceso à porta da cabine.
UBE: O senhor é um romancista consagrado. Que conselho daria a quem está começando? Se alguém quisesse escrever, digamos, sobre o crime e a loucura, como deveria proceder?
GR: Romanceando por exemplo o crime e a loucura, está visto que ele deve visitar os seus heróis na cadeia e no hospício, mas, se quiser realizar obra completa, precisa conhecê-los antes de chegar aí, acompanhá-los na fábrica ou na loja, no escritório ou no campo de plantação. Necessariamente o ofício de seus homens deve ter contribuído para que as coisas se passassem desta ou daquela forma. É intuitivo que o negociante deitou fogo ao estabelecimento porque os lucros se reduziam. Digam-nos como se operou a redução. E o indivíduo que matou os filhos e deu um tiro na cabeça? De que se alimentava esse malvado, a que gênero de trabalho se dedicava? Certamente ele é um malvado. Mas a obrigação do romancista não é condenar nem perdoar a mavadez; é analisá-la, explicá-la. Sem ódios, sem idéias preconcebidas, que não somos moralistas. Estamos diante de um fato. Vamos estudá-lo friamente. Parece que este advérbio não será bem recebido. A frieza convém aos homens de ciência. O artista deve ser quente, exaltado. E mentiroso. Não sei por quê. Acho que o artista deve procurar dizer a verdade. Não a grande verdade, naturalmente. Pequenas verdades, essas que são nossas conhecidas.
Quem não gostaria de entrevistar Graciliano Ramos? Já que isso não é mais possível, recorremos a sua obra. Das muitas páginas e idéias que deixou, surgiram as perguntas e respostas. Quando vimos, a entrevista estava pronta.
UBE: O escritor tem uma relação íntima com a memória. Muito do que se escreve vem de lá, do que é lembrado. É assim com o senhor?
GR: A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrá de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram.
UBE: O senhor foi preso político, esteve na prisão sem ter sido julgado. Como encara, hoje, o episódio?
GR: As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto era natural.
UBE: Os críticos foram sempre generosos com sua obra, o que acha deles?
GR: A coisa mais fácil do mundo é fazer crítica, fiquem sabendo, principalmente crítica literária. Eu, pelo menos, acho facílimo. Retirem dali os chavões, galicismos e as tolices, e vejam o que resta...
UBE: O senhor escreve à mão. Como é ver a obra, depois, impressa?
GR: O senhor já leu Balzac? Perdoe-me se sou indiscreto. Já, hein? Nem podia deixar de ser assim. Pois talvez se lembre de que esse fidalgo francês, a páginas tantas de um de seus formidáveis livros, diz que um artigo impresso parece valer mais que o mesmo artigo manuscrito. E é assim mesmo, não acha? Dir-se-ia que os períodos ganham mais expressão, energia, graça, uma grande soma de vantagens, enfim. A beleza do tipo, os espaços em branco, os grifos – que coisas tentadoras!
Imagine-se a distância que vai entre uma tira ignobilmente coberta de caracteres infames, semeada de borrões, e a mesma tira exposta em uma coluna nitidamente impressa em ótimo papel. É caso até para o autor ficar um tanto desconfiado, como o ingênuo carpinteiro que viveu há muitos anos lá num recanto da Ásia, e perguntar a si mesmo se foi ele que fez aquilo.
UBE: Como vê o mundo moderno?
GR: Não é nenhuma novidade dizer que as necessidades de um homem hoje são coisas muito complexas. Antigamente, um cidadão vivia com duas ceroulas, três camisas, uma casa esburacada, um banco, uma rede, uma mesa, um pote, um curral de vacas, um tabaqueiro, e um lenço. Às vezes também possuía um chapéu de couro e um par de alpercatas. Era pouco. Entretanto, era quanto bastava para chegar-se aos noventa anos sem precisão de óculos. É verdade que naquele tempo ainda não havia o costume de ler coisas impressas, o que, segundo está provado, danifica a vista de forma assustadora. Cada vez vamos ficando mais estragados dos olhos na flor da idade. A continuarem as coisas assim, não estará longe o dia em que as crianças já nascerão de pince-nez.
UBE: O senhor escreveu um livro chamado “Viagem”. Gosta de viajar?
GR: Em abril de 1952 embrenhei-me numa aventura singular: fui a Moscou e a outros lugares medonhos situados além da cortina de ferro exposta com vigor pela civilização cristã e ocidental. Nunca imaginei que tal coisa pudesse acontecer a um homem sedentário, resignado ao ônibus e ao bonde quando o movimento era indispensável. Absurda semelhante viagem – e quando me trataram dela, quase me zanguei. Faltavam-me recursos para realizá-la; a experiência me afirmava que não me deixariam sair do Brasil; e, para falar com franqueza, não me sentia disposto a mexer-me, abandonar a toca onde vivo. Recusei, pois, o convite, divagação insensata, julguei. Tudo aquilo era impossível. Mas uma série de acasos transformou a impossibilidade em dificuldade; esta se aplainou sem que eu tivesse feito o mínimo esforço, e achei-me em condições de percorrer terras estranhas, as malas arrumadas, os papéis em ordem, com todos os selos e carimbos. Tenho horror às casas desconhecidas. E falo pessimamente duas línguas estrangeiras. Estava decidido a não viajar; e, em conseqüência da firme decisão, encontrei-me um dia metido na encrenca voadora, o cinto amarrado, os cigarros inúteis, em obediência ao letreiro exigente aceso à porta da cabine.
UBE: O senhor é um romancista consagrado. Que conselho daria a quem está começando? Se alguém quisesse escrever, digamos, sobre o crime e a loucura, como deveria proceder?
GR: Romanceando por exemplo o crime e a loucura, está visto que ele deve visitar os seus heróis na cadeia e no hospício, mas, se quiser realizar obra completa, precisa conhecê-los antes de chegar aí, acompanhá-los na fábrica ou na loja, no escritório ou no campo de plantação. Necessariamente o ofício de seus homens deve ter contribuído para que as coisas se passassem desta ou daquela forma. É intuitivo que o negociante deitou fogo ao estabelecimento porque os lucros se reduziam. Digam-nos como se operou a redução. E o indivíduo que matou os filhos e deu um tiro na cabeça? De que se alimentava esse malvado, a que gênero de trabalho se dedicava? Certamente ele é um malvado. Mas a obrigação do romancista não é condenar nem perdoar a mavadez; é analisá-la, explicá-la. Sem ódios, sem idéias preconcebidas, que não somos moralistas. Estamos diante de um fato. Vamos estudá-lo friamente. Parece que este advérbio não será bem recebido. A frieza convém aos homens de ciência. O artista deve ser quente, exaltado. E mentiroso. Não sei por quê. Acho que o artista deve procurar dizer a verdade. Não a grande verdade, naturalmente. Pequenas verdades, essas que são nossas conhecidas.